A Invenção da Loucura
- Raphael Cela
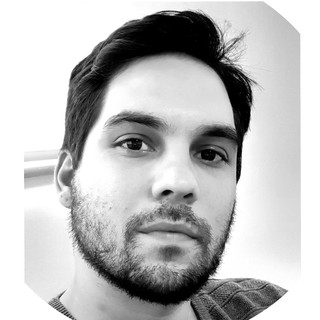
- 15 de jan. de 2016
- 4 min de leitura
Atualizado: 12 de jun. de 2020

Foucault traça uma linha oblíqua na história do desenvolvimento do homem ocidental para evidenciar uma verdade que se mostra, sobretudo à medida que o relógio inexorável do tempo avança, veementemente inabalável. Podemos dizer que o pensador francês é o signo da intelectualidade moderna, tanto pelo seu brilho ofuscante, quanto pelo rebuscamento encantador, que fazem dos seus escritos quase obras de arte. Na faustosa “história da loucura”, Foucault apresenta uma argumentação incisiva, cortante, ele opta pela estratégia do ataque, ataque à hipocrisia e às limitações de uma sociedade que não consegue – ou não quer – refletir sobre si própria e que está por demais conectada a sentimentos de preconceito e exclusão.
Todo trabalho laborioso de Foucault, denominado muitas vezes por pesquisa arqueológica, vem estabelecer uma relação de comparação entre o moderno e o clássico, de práticas corriqueiras em tempos idos, que através do movimento histórico se tornaram obsoletas ou se transformaram para dar novo sentido à maneira de se relacionar com o fenômeno da loucura. Nesse sentido, Segundo Machado (2005) “Na História da loucura isso levou a duas descobertas fundamentais ou à descoberta de uma descontinuidade, de uma grande ruptura em dois níveis diferentes: o das teorias sobre a loucura e o das práticas que dizem respeito ao louco” (p. 15). Essa diferença entre o nível das práticas e o nível das teorias, que muitas vezes assume a condição de contradição, é o que Foucault (2009) demonstra através de suas próprias palavras: “A evidência do ‘este aqui é louco’, que não admite contestação possível, não se baseia em nenhum domínio teórico sobre o que seja a loucura” (p.187), de maneira implacável o arguto inquisidor continua, “O século XVIII percebe o louco, mas deduz a loucura (...)” (2009, p. 187).
É através dessa constante comparação entre gerações, desse ir e vir na história, e sempre a procura de antagonismos e compatibilidades, que Foucault descobre a loucura como criação. Ele desvenda que num momento recente da história ocidental não existia ainda a categoria psiquiátrica referente à doença mental e que, antes da institucionalização da mesma com Pinel e os psiquiatras do final do século XVIII e início do XIX, a loucura era vista apenas como mais uma doença, como uma simples patologia. Sendo assim, não existia toda conotação que o termo assume nos dias de hoje, a experiência da loucura “(...) estava integrada, como as outras doenças, no tipo específico de racionalidade médica próprio da época clássica” (2005, Machado, P. 23).
Já na introdução feita ao capítulo seis, a saber, “O louco no jardim das espécies”, Foucault enuncia: “(...) a consciência da loucura, pelo menos na cultura européia, nunca foi um fato maciço” (2009, p.165), ao contrário o que a caracteriza é, com efeito, um caráter fluido, algo que constantemente se transforma. O filósofo francês, munido de tal argumentação, descortina as quatro formas de consciência da loucura: a consciência crítica, consciência prática, consciência enunciativa e, por fim, consciência analítica. A consciência crítica tem a ver com uma postura de denuncia, antes mesmo da elaboração de qualquer conceito. Já a consciência prática representa a assunção da diferença entre loucos e normais, nas palavras de Foucault: “(...) é uma consciência da diferença entre loucura e razão” (2009, p.167). Por outro lado, a consciência enunciativa da loucura relaciona-se com um louco que é evidente em si mesmo, sem nenhuma recorrência ao conhecimento, aqui talvez habite com mais tranqüilidade aquilo que se designa por senso comum. Por fim existe a consciência analítica da loucura, que se liga a uma postura objetiva, por mais que a loucura carregue em si algo de insondável, ela encontrou agora “(...) a tranqüilidade do bem sabido” (2009, p. 169).
Avançando em sua argumentação, Foucault deixa transparecer o inicio do movimento de catalogação da loucura, a tentativa de absorver a loucura num meio absolutamente positivo, de enunciação perfeita e objetiva. O filósofo francês deslinda o porquê de tal iniciativa: “Há mais ainda, a grande preocupação dos classificadores no século XVIII é animada por uma constante metáfora que tem a amplitude e a obstinação de um mito: a transferência das desordens da doença para a ordem da vegetação” (2009, p.190). O que se busca aqui é, na verdade, o sucesso obtido sobretudo pelos botânicos na classificação e sistematização das plantas. Nesse momento foi amanhada a semente da objetividade, bandeira do positivismo, e parece então que o homem se encantou com a beleza daquilo que daí brotou.
Para finalizar essa breve discussão faz-se necessário dizer o que fica da experimentação da obra “A história da loucura” de Michel Foucault. Entende-se que a loucura bem como a figura do louco são arquétipos construídos ao longo da história, construção feita sob uma complexa rede de influências, que envolve entre outros: fatores políticos, sociais, culturais. O mais pungente nessa constatação é que a experiência da loucura está sendo aniquilada por aqueles que dela não participam, trata-se aqui, então, de colocar à margem o diferente. Mas será que estamos tão distantes assim dos ditos loucos, dos viciados, dos fracassados, enfim, de tudo aquilo que sentimos aversão? Schopenhauer (2009, p.57) aponta para uma saída mais indulgente, e no seu livro Parerga y Paralipomena traz uma possível resposta:
"O tratamento mais adequado entre dois homens não deveria ser 'Senhor, Sir, Monsieur, mas meu companheiro sofredor.' Por estranho que pareça, estaria de acordo com os fatos, pondo o outro na luz adequada e nos lembrando do que é mais necessário: a tolerância, a paciência e o amor pelo próximo que todos precisam e, portanto, todos se devem." (Tradução livre do espanhol para o português)
Referências
Foucault, M. (2009). História da loucura: na idade clássica. São Paulo: Editora Perspectiva.
Machado, R. (2005). Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
SCHOPENHAUER, A. (2009). Parerga y Paralipómena. Madri: Editora Trotta.



Comentários