A fantasia é uma suplência
- Raphael Cela
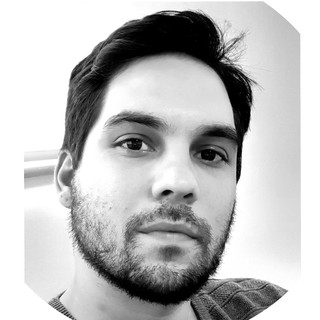
- 2 de set. de 2024
- 20 min de leitura

Is all that we see or seem But a dream within a dream? (Edgar Allan Poe)
Na teoria freudiana, partimos da concepção de que a fantasia se produz na neurose como efeito do processo de recalque. Já nas articulações de Lacan, a fantasia é desdobramento do encontro com o significante, possui uma lógica própria – lógica a qual o seminário 14 é todo dedicado em estabelecer. Nosso objetivo hoje será abordar em que medida a fantasia opera como uma suplência e, para isso, vamos passar por alguns pontos importantes da obra de Freud e Lacan, comentando suas aproximações e diferenças.
A fantasia, então, nós podemos nos perguntar o que ela é. Poderíamos dizer que a fantasia é uma imagem? Que ela é uma frase, uma palavra, uma letra, um significante, um delírio? Vamos tentar dizer as coisas da maneira a mais introdutória possível: a fantasia tem uma função. Que função é essa? A função da fantasia é a suplência. Então a fantasia é aquilo que tem como função fazer uma suplência. Porém, outros conceitos da psicanálise têm a mesma função: o sentido, a função fálica, o amor, o sintoma [1]. Então isso não basta, não basta dizer que a fantasia é aquilo que tem como função a suplência. O que especifica a fantasia é que ela opera a suplência de um modo particular, obedecendo a uma certa lógica. Essa lógica, nós chamamos de lógica da fantasia. Resumindo: a fantasia é aquilo que cumpre função de suplência através de sua lógica própria.
Então, se compreendemos que a fantasia faz suplência a partir de sua lógica interna, ficamos com a tarefa de pormenorizar dois aspectos: 1) o que é a suplência, como ela ocorre, suplência de quê e para quê? 2) E como funciona a lógica da fantasia em relação ao tema da suplência. Isso nos leva as bases da teoria freudiana que serviram de ponto de partida para as elaborações de Lacan sobre a fantasia e a suplência, veremos essa estruturação agora.
Freud, o energético
Freud propôs que a neurose e a psicose se estruturavam a partir de processos diferentes, esses processos marcam a relação da pessoa com a realidade e com o que não pode ser processado pelos sistemas que compõe o psiquismo. Damos o nome de recalque ao processo que envolve a estruturação da neurose; para a psicose Freud usou a palavra Verwerfung, que usualmente se traduz por rejeição. Mais tarde, Lacan chamaria o processo que envolve a psicose de Foraclusão. São dois modos que nos interessam aqui, pois eles realizam a suplência de formas diferentes: a neurose a partir da fantasia, que é nosso objeto principal hoje, e a psicose a partir do delírio.
Para entendermos melhor como se dá a suplência é necessário que passemos, ainda que de modo resumido, a elaboração freudiana sobre o recalque. O psiquismo é estruturado por Freud como obedecendo a um princípio de regulação, esse princípio funciona dentro de uma lógica própria que envolve os três conceitos fundamentais da metapsicologia: dinâmica, economia e topologia. Essa pequena máquina, trabalha em função de um equilíbrio, ela deve manter a quantidade de energia em um nível constante e reduzido, para isso ela desloca as quantidades de energia sobressalentes para locais diferentes. Em Além do Princípio do Prazer, Freud nos fala sobre a explicação metapsicológica como “a mais completa”:
Na teoria psicanalítica, não hesitamos em supor que o curso dos processos psíquicos é regulado automaticamente pelo princípio do prazer; isto é, acreditamos que ele é sempre incitado por uma tensão desprazerosa e toma uma direção tal que o seu resultado final coincide com um abaixamento dessa tensão, ou seja, com uma evitação do desprazer ou geração do prazer. Se atentamos para esse curso, ao considerar os processos psíquicos que estudamos, introduzimos o ponto de vista econômico em nosso trabalho. Uma descrição que, junto ao fator topológico e ao dinâmico, procure levar em conta esse fator econômico, parece-nos ser a mais completa que hoje podemos imaginar, merecendo a designação de metapsicológica. (2010, P. 120)
O recalque é um mecanismo que opera a partir de uma ameaça, o psiquismo está ameaçado de ser inundado por uma quantidade de energia (excitação) que o sobrecarregará de forma incontornável. Em Freud, ele nos ensina que o recalque é uma forma de defesa contra o traumático, contra aquilo que pode levar a um desequilíbrio no psiquismo tal, que o ameaçaria enquanto existência. Ou seja, o recalque opera em função do insuportável, do impossível de ser assimilado – ainda que energeticamente – por esse psiquismo. Entender esse raciocínio, é importante pois é só a partir do recalque que a neurose se instala naquilo em que ela tem de similar com a psicose: a perda da realidade.
O recalque, dessa forma, afasta o neurótico da realidade que, em tese, é impossível de apreender. É em função desse impossível de apreender que surge a fantasia como forma de fazer suplência, agora vocês entendem melhor, de fazer suplência a quê? Já podemos responder: ao que não foi possível de ser assimilado pela consciência e, dessa forma, foi recalcado para o inconsciente. A fantasia, então, vem ocupar o lugar vazio, fazendo suplência ao impossível e substituindo a relação do sujeito com a realidade. Podemos dizer que na elaboração freudiana o neurótico está sempre em relação com sua fantasia e não com a realidade, é o que o termo “perda” indica na formula “perda da realidade”:
Toda neurose perturba de algum modo a relação do doente com a realidade, que é um meio para ele retirar-se desta, e, em suas formas graves, significa diretamente uma fuga da vida real. (...) Mas isto não é ainda a neurose mesma. Ela consiste antes nos processos que trazem compensação para a parte prejudicada do Id, ou seja, na reação à repressão e no malogro desta. (2011, p. 194)
É importante uma palavra sobre a “perda da realidade”. Se perdemos um objeto qualquer, esse objeto pode ser reencontrado. Se perco uma caneta em casa, pode ser que um dia a encontre novamente. Porém, o que é perdido em relação ao aparelho psíquico, não foi perdido por acaso, mas porque é impossível de ser assimilado. Aqui, o objeto perdido é um objeto impossível, impossível já de saída. O único modo de reencontro com esse objeto é o ressurgimento na consciência de efeitos do material suprimido, em outras palavras: o retorno do recalcado. Então, esse retorno produz sintomas, funda a fantasia como modo de suplência em relação ao impossível do recalque. Colocado assim contra a parede, o indivíduo simboliza um modelo vazio da alienação S(A/), diante do impossível ou ele não é ou ele não pensa. Nas palavras de J. Nassif no seminário 15:
Esse modelo, que é o da alienação, como escolha impossível entre o ‘eu não penso’ e o ‘eu não sou’, vai sobretudo permitir-nos exibir a negação mais fundamental, (...) deve-se admitir que esta negação fundamental é a que faz surgir o Outro, consequentemente à recusa da questão do ser que instaura o cogito, exatamente como ‘o que é rejeitado do simbólico reaparece no real’. Mas também deve-se admitir que esta Verwerfung primordial que instaura a ciência, instaura uma disjunção exclusiva entre a ordem da gramática em sua totalidade, que se torna assim suporte da fantasia, e a ordem do sentido que é excluída dela e que se torna, com efeito, a representação de coisas. (LACAN, 1967-68, P. 176)
Por gramática aqui, podemos tomar a definição de Saussure[2]: “A Linguística estática ou descrição de um estado de língua pode ser chamada de Gramática, no sentido muito preciso e ademais usual que se encontra em expressões como ‘gramática do jogo de xadrez’, ‘gramática da Bolsa’ etc., em que se trata de um objeto complexo e sistemático, que põe em jogo valores coexistentes”. Podemos assim dizer na psicanálise: gramática da fantasia, uma lógica própria que coloca em jogo valores coexistentes a partir do objeto complexo pequeno a.
Além disso, quero chamar a atenção de vocês para o “faz surgir o Outro”. Nesse caso, esse processo seria absolutamente dependente da negação, e que funda o inconsciente como Outro enquanto elemento de dissociação do “ou eu não penso ou eu não sou”. É o que Lacan nos ajuda a entender no Seminário 24: “(...) É do Outro (Autre) que, com A maiúsculo, se trata no inconsciente. Não vejo como se possa dar um sentido ao inconsciente que não seja o de situá-lo nesse Outro, portador dos significantes, que puxa os cordéis (...) do que é o sujeito a partir do momento em que ele depende tão inteiramente do Outro”[3].
Lacan, o anti-energético
Estabelecidas as bases do pensamento freudiano, agora podemos seguir e compreender de onde Lacan partiu e quais foram suas elaborações sobre a fantasia como suplência. Na releitura de Freud, desde o início Lacan nos indica qual será seu viés, sua escolha epistemológica: “(...) para ler a metapsicologia freudiana inteira, é indispensável servir-se desta distinção de planos e de relações expressa pelos termos de simbólico, de imaginário e de real”[4]. Isso indica que não há como ler os argumentos metapsicológicos de Freud, sem uma nova composição que é introduzida por Lacan, modelo que se apoia em Freud, ao passo que dá uma guinada em outra direção.
Outro ponto importante é que Lacan abandonou um dos pilares fundamentais do pensamento de Freud – muito influenciado pelo paralelismo psicofísico de Fechner –: a energética. Lacan entendeu que o pensamento freudiano encontrou um embaraço para sustentar as premissas do equilíbrio energético, isto está patente em um dos textos mais importantes escritos por Freud: o A além do princípio do prazer. E de fato, isto está claro no texto, o próprio Freud se diz mais de uma vez embaraçado ao longo da escrita.
Sobre o ponto de vista energético, isso nos interessa no sentido da compreensão dos argumentos de Lacan, que chama de “mito energético” (2010, pag. 108) as bases do pensamento mecanicista que influenciaram Freud nesse ponto. O embaraço freudiano no Além do princípio tem relação com o limite da lógica do pensamento energético da época: “Este sistema tem algo de incomodativo. É dissimétrico, não cola. Algo escapa aí do sistema das equações e das evidências tomadas emprestadas às formas do pensamento do registro do energético tais como foram instauradas em meados do século XIX” (2010, p. 88). E conclui: “É o princípio da homeostase que obriga Freud a inscrever tudo o que deduz em termos de investimento, de carga, de descarga, de relação energética entre os diferentes sistemas. Ora, ele se dá conta de que há algo que não funciona aí dentro. Além do princípio do prazer é isto. Nem mais nem menos.” (2010, p. 88).
O que aconteceria, então, se nos livrássemos do “mito energético”? É o que nos leva ao próximo ponto.
A máquina de sonhar
Todo esse percurso, foi para vocês poderem observar, que quando passamos de Freud à Lacan, não se trata de uma correspondência teórica ponto a ponto. Nas palavras de Lacan, mais do que a energética, Freud estava diante do descobrimento do símbolo enquanto função (2010, P. 109): “Ele [Freud] descobre o funcionamento do símbolo como tal, a manifestação do símbolo em estado dialético, em estado semântico, nos seus deslocamentos, os trocadilhos, os chistes, gracejos funcionando sozinhos na máquina de sonhar”. Fica claro, portanto, o privilégio que Lacan deu ao significante, quando no Seminário 24, inclusive, afirma que o inconsciente de inconsciência não tem nada, que deveria ser traduzido por “um equívoco”, diz ele: “Freud não tinha senão pouca ideia do que seria o inconsciente. Mas parece-me, ao lê-lo, que se pode deduzir que ele pensava que era efeitos de significante” (LACAN, 76-77, p. 43).
É o que nos faz passar hoje ao pensamento de Lacan em relação à fantasia como suplência. Esqueçamos as referências energéticas e psicofísicas, para Lacan no começo está o significante. O que em Freud chamaríamos de recalque primário, em Lacan podemos dizer encontro com o significante de alingua. A marca, é efeito desse momento em que o indivíduo se encontra com a linguagem. Se há trauma, o único adviria também desse encontro. Por isso podemos dizer que a palavra preda o corpo, como nos ensina Colette Soler[5], para se referir ao que a linguagem faz com o ser humano, a linguagem preda o homem.
Se a condição que funda o impossível de assimilar é o encontro com o significante, é preciso entender o que está em jogo aí. Pois a lógica da fantasia é isso, é a compreensão de que a estruturação lógica que compõe a fantasia humana é específica, é a lógica do significante, que empresta suas propriedades para a formulação da fantasia, como lembra Lacan no Seminário 14 (2008, P. 12): “(...) lembrando a relação dessa estrutura da fantasia – que eu teria inicialmente trazido de volta para vocês – com a estrutura do significante”. Essa lógica, funda o impossível, não mais por conta de quantidades energéticas, como quis o pensamento de Freud, mas por possuir um funcionamento próprio, que antes de Lacan ainda não havia sido estabelecido. Existem muitas lógicas estabelecidas, a aristotélica ou clássica, a paraconsistente, a lógica das percentagens. A lógica própria do pensamento psicanalítico chama-se lógica da fantasia.
Sobre o significante, não basta dizermos que a relação entre significado e significante é arbitrária, isto já está posto desde Saussure (2012, P. 109): “(...) o significante é imotivado, isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade”. Isso é importante para nós, Lacan se apropria disso, mas vai além. O significante marca o ser humano na medida em que funda o sujeito através de uma operação de representação: o significante representa um sujeito para outro significante. Ao fazê-lo, empresta ao sujeito algo de sua lógica própria, daí a importância de entendermos essa lógica.
É importante compreender o que está em jogo na lógica da fantasia pois isso nos leva diretamente a nosso interesse hoje: compreender a suplência. Primeiro temos que passar pelo impossível de se escrever, e um dos pontos mais importantes para isso é compreender o axioma máximo da lógica da fantasia: um significante não pode se significar a si mesmo. É a leitura que Lacan faz do paradoxo de Russell: um conjunto de todos os conjuntos que não contenha a si mesmo, eis o paradoxo. Porque o significante possui essa propriedade – não pode se significar a si mesmo – ele marca uma dimensão que é impossível de delimitar: existe o que pode ser escrito e o que não pode. O que não pode ser escrito, não cessa de não se escrever como impossível, algo se perde de modo incontornável, pois já era impossível de saída. Eis-nos aqui de volta ao impossível de assimilar que surgiu em Freud, mas sobre bases totalmente diferentes, como explica Nassif (1967-1968, p. 173): “O sujeito é, com efeito, a raiz da função de repetição em Freud, e a escrita, a colocação em ato desta repetição que busca precisamente repetir o que escapa, ou seja, a marca primeira que não poderia se redobrar e que desliza necessariamente fora de alcance”.
Perante o real como indizível surge uma busca realizada pelo sujeito: “Diante desse real, dessa primazia do significante, o sujeito busca construir saídas para possibilitar uma amarração entre o significante e o significado”[6]. Nada como o impossível para pôr o neurótico a trabalhar. É essa a leitura lacaniana, se vamos tomar por exemplo o que Freud identificou como lei de interdição do incesto, é mais o impossível que está em jogo do que propriamente falando o horrível do ato incestuoso. Como afirma Lacan em A Ética da Psicanálise[7]:
O que encontramos na lei do incesto situa-se como tal no nível da relação do inconsciente com das Ding, a Coisa. O desejo pela mãe não poderia ser satisfeito pois ele é o fim, o término, a abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estrutura mais profundamente o inconsciente do homem. É na própria medida em que a função do princípio do prazer é fazer com que o homem busque sempre que ele deve reencontrar, mas que não poderá atingir, que nesse ponto reside o essencial, esse móvel, essa relação que chama a lei da interdição do incesto.
Dessa forma, é possível observar que, na perspectiva de Lacan, a lei da interdição do incesto marca a relação necessária do homem com a impossibilidade. O que marca o princípio do prazer é essa lei que especifica uma busca eterna, se algo se realiza é apenas para que a busca recomece novamente, num movimento interminável. Nada melhor para realizar esse feito do que um tabu.
A fantasia então, na neurose, seria a forma possível de recobrir esse impossível do vácuo criado pelo significante. Dessa maneira, ela faria uma suplência, o lugar vazio seria recoberto por uma fantasia qualquer. Então a fantasia substitui o impossível de se escrever, e mais ainda, a fantasia não existiria sem essa impossibilidade radical marcada pela lei axiomática do significante. O impossível funda a fantasia, a fantasia recobre o impossível enquanto suplência. É o que nos diz Gerbase em Epifanias, que o indelével é o desdobramento do impossível: “Com isso, quero induzir vocês a não procurar o patológico. Que fique indelével um traço é possível, mas não é necessário que seja algo trágico, inevitável, insuportável, basta que seja impossível para que se torne traço”[8].
A necessidade da fantasia e da suplência
Esquece-se sempre da essência da descoberta freudiana (Lacan, 2010), Lacan insiste que isso é uma tendência. Mas por que? Talvez seja difícil ao humano pensar sobre a possibilidade de não ser um Eu, inteiro e unificado. Pode ser que isso seja uma espécie de ferida narcísica que torne difícil assimilar algo como: “o objetivo de toda vida é a morte” (Freud, 1920, p. 149), como explica Freud, fazendo alusão ao Übermensch nietzschiano:
Para muitos de nós pode ser difícil abandonar a crença de que no próprio homem há um impulso para a perfeição, que o levou a seu atual nível de realização intelectual e sublimação ética e do qual se esperaria que cuidasse de seu desenvolvimento rumo ao super-homem. Ocorre que eu não acredito em tal impulso interior e não vejo como poupar essa benevolente ilusão. (Freud, 1920, p.152)
Podemos dizer que a fantasia opera nesse mecanismo de “benevolente ilusão” justamente através da suplência. O difícil é que isso está em tudo ou quase tudo na neurose, na base da relação do ser humano com o que quer que a gente chamasse de realidade. Esse engodo a que Freud se referiu, vemos um pensador do nosso tempo como o Harari chama-lo de “Os muros da prisão”, é uma boa maneira de observar como a fantasia chega a se materializar em nossas vidas. Segundo ele, existe algo de uma “ordem imaginada”, o primeiro princípio dessa ordem é jamais admitir aquilo que ela é: que é apenas imaginada: “Como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza”[9].
Há uma necessidade de eludir a consistência significante enquanto elemento de puro discurso: “As pessoas são diferentes não porque Hamurabi disse isso, mas porque Enlil e Marduk decretaram isso. As pessoas são iguais não porque Thomas Jefferson disse isso, mas porque Deus as criou dessa maneira. Os livres mercados são o melhor sistema econômico não porque Adam Smith disse isso, mas porque essas são as leis imutáveis da natureza” (HARARI, 2017, p.121). A lógica é a mesma do cogito cartesiano, é preciso lembrar que o objetivo das Meditações é demonstrar a existência de Deus: “penso, logo sou” é o argumento que instaura Deus, Deus como elemento garantidor do discurso, em outras palavras uma suplência.
Portanto, resta tão-somente a ideia de Deus, na qual é preciso considerar se há algo que não possa ter provindo de mim mesmo? Pelo nome Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas as coisas que são (se é verdade que há coisas que existem) foram criadas e produzidas. (...) E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir, de tudo o que foi dito antes, que Deus existe; pois, ainda que a ideia da substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. (DESCARTES, R. Meditações metafísicas, São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016, P. 115)
A suplência vem ao socorro do homem quando este é abatido pelos muitos modos do impossível, como vimos hoje desde Freud. O homem que pensa se assombra com a possibilidade de que o nada possa produzir alguma coisa, isso não faz sentido, não cabe na lógica formal, como afirma Descartes: “Daí decorre não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas também que o que é mais perfeito, isto é, o que contém em si mais realidade, não pode ser uma decorrência de uma dependência do menos perfeito” (2016, P. 112). A suplência repousa sobre esse “não poderia”, recobre os retalhos do impossível produzido pelo significante.
Relatos sobre as fantasias de Freud
Freud foi a pessoa que viu na dramaturgia Édipo Rei um modelo explicativo com potencial para elucidar todos os conflitos da humanidade. Isso por si nos diz algo da pessoa de Freud, e nesse caso, é interessante conhecer um pequeno acontecimento de sua juventude. Esse episódio se encontra na biografia escrita por Peter Gay, e começa por nos mostrar o quanto o futuro pai da psicanálise estava envolvido em uma “desconcertante trama de relações familiares, à qual ele achava muito difícil de escapar”[10]. A mãe de Freud era 20 anos mais nova que o pai dele, esse, por sua vez, já tinha dois filhos crescidos quando Freud nasceu, um deles (Emanuel) mais velho do que a própria mãe de Freud. Em suas autoanálises, ele se lembra de pensar que sua mãe combinava mais com seu irmão do que com seu pai, e isso o deixava com ciúmes. Tal era a teia em que se encontrava Freud ainda criança: “A jovem mãe grávida de um rival, o meio-irmão de alguma misteriosa maneira como acompanhante de sua mãe, o sobrinho mais velho do que ele, seu melhor amigo e também maior inimigo, o pai bondoso com idade suficiente para ser seu avô” (GAY, p. 2012, p. 23).
Dos frutos das autoanálises que fez, trago para vocês dois fragmentos que nos mostram a fantasia em sua tessitura. O primeiro podemos chamar de o episódio Kasten. Freud tinha desenvolvido um apego muito grande a babá que cuidava dele, mas quando sua mãe ficou grávida de sua futura irmã Anna, o meio-irmão de Freud (o rival) fez com que a babá fosse detida por um pequeno roubo. O desaparecimento da cuidadora, coincidiu com a ausência da mãe, que lidava com um parto difícil. Esse momento gerou uma lembrança vaga de um momento difícil que só foi esclarecido por Freud muito tempo depois. Lembrou-se de que havia procurado desesperadamente pela mãe na época e seu irmão Philipp abriu um guarda-louça (Kasten) para mostrar ao pequeno Freud que sua mãe não estava presa lá dentro. Por que Freud não esquecia essa palavra, nem a angústia desses momentos? Só em 1897, no ápice de sua autoanálise, chegou a resposta:
(...) quando perguntara a Philipp aonde havia ido a babá, seu meio-irmão respondera que ela estava eingekastelt – “trancafiada” -, num gracejo referente ao fato de estar na cadeia. Evidentemente, Freud receara que sua mãe também tivesse sido trancafiada. Uma rivalidade infantil com o irmão mais velho que supostamente dera um filho à sua mãe, uma curiosidade sexual igualmente infantil sobre bebês que saem de corpos, e um triste sentimento de privação com a perda da babá agitaram o menino pequeno demais para entender as ligações, mas não para sofrer. Aquela babá católica, velha e pouco atraente como era, tinha significado muito para Freud, quase tanto quanto sua adorável mãe. Como algumas figuras que mais tarde viriam a monopolizar sua vida imaginativa –, Leonardo, Moisés, para não falar de Édipo –, o pequeno Freud gostava de receber cuidados amorosos de duas mães. (GAY, 2012, p. 25)
Aqui, o contexto familiar serve de pano de fundo para o efeito do significante em sua relação com a fantasia: as palavras Kasten e eingekastelt se reuniam sonoramente para marcar o equívoco no jogo que afastou Freud de seus objetos de amor proibidos. Em uma só sonoridade: o rival, as duas mães, a perda, a castração e o impossível de dizer.
O segundo exemplo, um pouco mais conhecido, da vida de Freud, diz respeito a sua posição diante do Jacob Freud (pai) e ao estabelecimento de uma fantasia peculiar. Quando tinha dez ou doze anos, o Jacob começou a levá-lo em seus passeios, mas a Áustria era um local crescentemente antissemita, e para explicar ao filho como as coisas talvez estivessem melhorando para os judeus, contou a seguinte história para Freud: “Quando eu era rapaz, num sábado fui dar uma volta pelas ruas da cidade onde você nasceu, todo lindamente enfeitado, com um gorro de pelo novo na cabeça. Então vem um cristão, de um lanço atira meu gorro no estrume e grita: ‘Judeu, fora da calçada’. Interessado, Freud perguntou ao pai: ‘E o que você fez?’. E veio a calma resposta: ‘desci para a rua e apanhei meu gorro’” (GAY, 2012, p. 29).
A reação dócil atingiu em cheio as ideias de Freud sobre um pai forte e heroico, e ele começou a pensar coisas interessantes: “Identificou-se com o magnífico e intrépido semita Aníbal, que jurara vingar Cartago, por mais poderoso que fossem os romanos, e elevou-o a símbolo do ‘contraste entre a tenacidade do povo judeu e a organização da igreja católica’. Eles nunca veriam a ele, Freud, apanhando seu gorro na sarjeta imunda” (GAY, 2012, p. 29). Uma fantasia que se vinga do inimigo, mas que ao mesmo tempo realiza algo do indizível em relação ao pai: sua superação, evidenciada pelo fato de que Aníbal é um personagem da história conhecido por sua fama ter ultrapassado a do próprio pai (Amílcar, considerado, ele mesmo, um grande estadista e líder militar).
Dois exemplos de Fantasia e Suplência
Um paciente me falava de um encontro com seu professor de matemática ainda no ensino médio. Há um impossível de dizer no que esse encontro teve de marca, mas isso foi da ordem de um abatimento, de uma figura que transmitia a esse paciente os assombros de algo indizível. Sem mais nem menos, esse que na época era um adolescente, se lembrou em uma sessão que nesse período lhe sucedeu algo estranho. Ocorreu-lhe que no trajeto entre a escola e a casa onde morava, sem nenhuma razão específica, sem nenhuma intenção que soubesse desvendar, começou a somar as placas dos carros. Foi difícil reconhecer em que medida ele passou a vida somando placas de carros, na esperança de que aquelas somas fizessem suplência a frase: não sou suficiente para ele que, sendo horrível, me punirá de modo hediondo. Nesse caso, a suplência era um cálculo.
Há um outro caso que acompanho que nos mostra bem o modo diferente de resolução da psicose em relação a neurose e sua relação com a suplência. Trata-se de uma adolescente que quando se aproxima dos 18 anos, e é convocada a responder de um lugar que não pode, a assumir a responsabilidade da passagem simbólica a uma posição de poder – maior idade, entrada na universidade – finalmente declara uma psicose que já vinha se desenhando. Após fumar maconha com um amigo, no trajeto para casa ouve policiais falarem mal dela, ao entrar em casa, continua ouvindo os policiais falarem. Ao entrar em seu quarto, ainda pode escutar as palavras agressivas e depreciativas dos policias lhe chegarem “desde a rua”. A solução da psicose é uma suplência ao impossível através do delírio: policiais me chamam de vagabunda, de drogada, algo do impossível retorna desde fora. Se fosse uma neurose, poderíamos pensar a frase como: penso mal de mim, penso que não valho nada, penso que só sirvo para usar drogas. Em ambos os casos, existe a tentativa de suplência diante do impossível de assimilar: na psicose, o delírio; na neurose, a fantasia.
Referências
CEVASCO, Rithée; CHAPUI, Jorge. Passo a Passo (1): Rumo a uma clínica borromeana. São Paulo: Aller, 2021.
DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016.
FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil (“o homem dos lobos”), além do princípio do prazer e outros textos. São Paulo: Companhia das letras, 2010.
FREUD, Sigmund. O eu e o id, “autobiografia” e outros textos. São Paulo: Companhia das letras, 2011.
GAY, Peter. Freud: uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
GERBASE, Jairo. Epifania. Salvador: Associação Científica Campo Psicanalítico, 2021
HARARI, Yuval Noah. Sapiens - Uma breve história da humanidade. 28. Ed. Porto Alegre: L&PM, 2017.
LACAN, Jacques. O Seminário livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
LACAN, Jacques. Seminário livro 14: a lógica da fantasia. Recife: Centro de estudos freudianos de Recife, 2008.
LACAN, Jacques. (1967-1968) O Seminário, livro 15: o ato psicanalítico. Inédito.
LACAN, Jacques. (1976-1977) Séminaire 24 - L'insu-que-sait de l'une bévue s'aille à mourre [O Seminário, livro 24: O insucesso do inconsciente é o amor]. Inédito.
PETER, Gay. Freud: uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Companhia das letras, 2012.
PINHEIRO, F. O conceito de estabilização na clínica das psicoses: da suplência à invenção do suplemento. 62f. Dissertação (mestrado em psicologia) – Departamento de psicologia, Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2013.
SOLER, Collete. Em-Corpo do Sujeito, Salvador: Ágalma, 2003.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2012.
[1] R. CEVASCO; J. CHAPUI, Passo a Passo (1): Rumo a uma clínica borromeana, Aller, 2021
[2] SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2012. P. 183.
[3] LACAN, Jacques. (1976-1977) Séminaire 24 - L'insu-que-sait de l'une bévue s'aille à mourre [O Seminário, livro 24: O insucesso do inconsciente é o amor]. Inédito. P. 6.
[4] LACAN, Jacques. O Seminário livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. P. 55.
[5] SOLER, Collete. Em-Corpo do Sujeito, Salvador: Ágalma, 2003.
[6] PINHEIRO, F. O conceito de estabilização na clínica das psicoses: da suplência à invenção do suplemento. 62f. Dissertação (mestrado em psicologia) – Departamento de psicologia, Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2013. P. 28
[7] LACAN, J. O seminário: livro VII – A ética em psicanálise (1959). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. apud PINHEIRO, F. 2013, P. 27
[8] GERBASE, Jairo. Epifania. Salvador: Associação Científica Campo Psicanalítico, 2021. Posição 141
[9] HARARI, Yuval Noah. Sapiens - Uma breve história da humanidade. 28. Ed. Porto Alegre: L&PM, 2017. P. 121
[10] GAY, Peter. Freud: uma vida para o nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. P. 23





Comentários